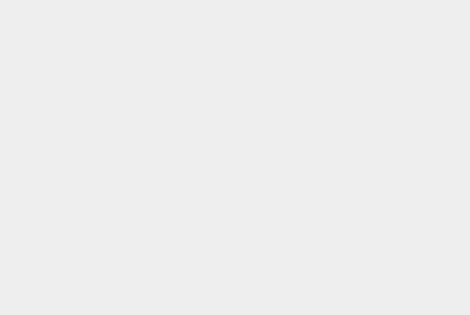Depois de uma longa pausa, os iranianos respondem com um ataque "maciço" contra Israel, utilizando centenas de drones e mísseis de cruzeiro e balísticos - mas dizem aos israelitas e aos americanos exatamente quando é que o ataque vai acontecer e quais são os alvos, e utilizam sobretudo mísseis obsoletos, e a maior parte deles é abatida e ninguém morre. Isto foi tudo em abril.
Pausa mais longa. Depois, em julho, os israelitas matam Fuad Shukr, o comandante militar do Hezbollah, aliado do Irão, em Beirute - e na mesma noite outro ataque israelita mata o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, enquanto este dormia numa casa de hóspedes em Teerão. Mas não matam nenhum iraniano, ou pelo menos nenhum importante, por isso o Irão deixa passar.
Parece que a dança pode estar a terminar, mas, em finais de setembro, bombas israelitas matam Hassan Nasrollah e a maior parte dos altos dirigentes do Hezbollah em Beirute. Desta vez, não há pausa. Em 1 de outubro, o Irão lança 181 armas contra Israel. A maior parte delas são mísseis balísticos e muitos deles atingem os seus alvos (exclusivamente militares). Dois israelitas são mortos.
Agora é a vez de Israel fazer uma longa pausa, principalmente porque as eleições americanas se aproximam e a Casa Branca não quer uma grande guerra no Médio Oriente, talvez envolvendo tropas americanas, que distraia os eleitores no dia das eleições.
Alguns israelitas, ou pelo menos as pessoas que rodeiam o Primeiro-Ministro Binyamin Netanyahu, pensam que Israel está numa boa fase militar. Sentem-se tentados pela ideia de aproveitar esta oportunidade para fazer tudo contra o Irão e arrastar também os Estados Unidos.
Talvez até consigam que os americanos se juntem a eles para atacar as instalações nucleares do Irão e eliminar permanentemente o risco de um dia se transformarem em verdadeiras armas nucleares, ou assim sonha Netanyahu. Mas Joe Biden ainda não perdeu a cabeça e não vai de modo algum ceder a Netanyahu nessa fantasia.
Finalmente, Israel volta a atacar o Irão a 25 de outubro, mas é tão comedido como o último ataque iraniano. Apenas uma pequena lista de alvos militares, sem interferir com as instalações nucleares do Irão, e apenas quatro iranianos mortos. E, como em todos os passos da dança, o último a "retaliar" insta o outro a não "retaliar" também.
Mas é altura de deixar de lado as analogias com o namoro das aves e chamar a isto o que realmente é: o tipo de postura e de sinalização que é típico entre bandos de primatas superiores (incluindo nações humanas inteiras) que se encontram num confronto mas não têm a certeza de que beneficiariam com uma guerra total.
Os Yanomamo do alto Amazonas reconheceriam este comportamento, tal como os habitantes das terras altas da Nova Guiné. Até os bandos de chimpanzés que Jane Goodall estudou em Gombe, há cinquenta anos, poderiam compreendê-lo vagamente. Os americanos, israelitas e iranianos não são "primitivos". Estão apenas a exibir valores ancestrais e comportamentos herdados que nunca desapareceram.
Toda a instituição anacrónica da guerra é assim. Os mesmos tipos de conflitos que são resolvidos pela lei ou pela negociação num país moderno são frequentemente resolvidos com grandes quantidades de violência (ou, mais frequentemente, permanecem por resolver) quando ocorrem entre países.
Toda a gente sabe que isto é mau mas é verdade, e evita mencioná-lo sobretudo porque soa a banal. No entanto, de vez em quando, há uma cadeia de acontecimentos tão obviamente fútil e contraproducente que se torna um dever condená-la publicamente. O atual jogo de "tit-for-tat" no Médio Oriente enquadra-se certamente nessa descrição.
Nenhum destes ataques e contra-ataques teve o mínimo impacto no equilíbrio de poder regional ou mesmo nas posições políticas actuais dos vários intervenientes. Também ainda não se trata de uma verdadeira guerra (exceto em Gaza). Os ataques e contra-ataques noutros locais não passam de "demonstrações de determinação", rituais que seriam familiares aos nossos antepassados mais longínquos.
O problema sempre foi e continua a ser o facto de estas demonstrações poderem facilmente descambar numa guerra em grande escala: bater no peito não é uma ciência exacta. Não há uma guerra deste tipo no Médio Oriente desde 1973 e, meio século depois, uma conflagração semelhante poderia fazer cair regimes em toda a região.
Os regimes actuais são tão uniformemente terríveis que há a tentação de dizer que não pode piorar, mas isso não é verdade. Pode piorar muito, e muito rapidamente, se a atual crise se transformar numa guerra em grande escala.
Quais são as probabilidades de isso acontecer? Ninguém sabe, mas até o facto de podermos colocar seriamente esta questão sugere que já corremos um sério perigo.
Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.